fim
Com a concordância dos três autores e amigos, ele acaba aqui.
Muito obrigado a todos pela visita.
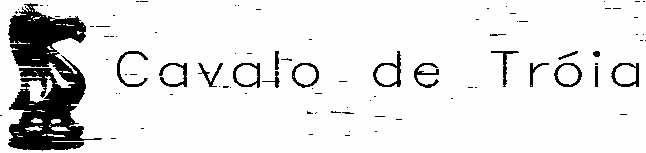
 Baleal - Peniche - Baleal
Baleal - Peniche - Baleal 
Ontem vi o Psycho do meste Hitchcock e urge fazer uma série de reflexões sobre o valor de uma boa história. Os filmes de Hitchcock, apesar de não serem nunca mais do que uma boa história, são sempre muito mais do que uma boa história.
O Psycho, de 1960, pode não ser o melhor de Hitchcock (em minha opinião é o Vertigo) mas é sem dúvida o que mais inspirou e marcou a 7ª arte do género thriller.
Se uma cena está no Psycho, essa cena é hoje um cliché do cinema,
Os artistas podem dividir-se em dois grupos: os maus e os bons.
É a única divisão segura. Mas arriscamos outra, penas para efeitos de exposição de um ponto de vista. Dentro dos bons artistas podemos ainda dividir entre os que acreditam no objecto que criam, e os que acreditam apenas neles próprios, ou seja, entre os que se esmeram para ir de encontro ao espectador/leitor levando-o na direcção que querem, ou os que se esmeram para ir directamente ao encontro do seu próprio âmago, levando os espectadores/leitores consigo.
Hitchcock é um daqueles que acredita nos objectos que cria: os seus filmes, na história e nas personagens. Pode ser mentalmente depravado, que se sabe que era, mas isso não é explícito nos seus filmes. Podemos imaginar Hitchcock com um sorrisinho doentio a fazer pequenas alterações no argumento para obrigar uma qualquer diva loira no set a tirar mais uma peça de roupa. É curioso também que as histórias não são escritas por Hitchcock, o que ainda parece afastar mais do artista o objecto que cria, quando, na verdade, se sabe que nunca é assim.
Psycho decorre com mudanças de ritmo e de direcções completamente inesperadas e tem um twist no fim. Depois surge um psiquiatra que explica os comportamentos do psicopata à polícia, aos amigos das vítimas (e ao espectador pois claro). A explicação é longa, o psiquiatra fuma cachimbo, e o final do filme parece estranhamente apaziguador. Compreendemos a crueldade e o crime. Teve uma infância difícil, coitado, teve este aquele trauma etc.
Um psicopata de personalidade múltipla estripa pessoas e depois é analisado, compreendido, explicado, e isso até pode significar a sua absolvição pelos tribunais porque o darão como doente.
A conversa do psiquiatra pode considerar-se o acto crítico, o acto de explicar o insondável e complexo humano, de tentar aplicar uma abordagem positivista a actos selvagens e brutais, a mesma que é aplicada à criação da arte.
Essas interpretações estão sempre profundamente datadas e incompletas. As do Psycho parecem tiradas a papel de um manual de psiquiatria, de uma palestra de um Jung, muito em voga naquela época.
Mas, no fim, depois da conversa do psiquiatra, Hitchcock ainda atira outra reviravolta, negra e imprevisível. A história e a personagem prevalecem sobre o racional, mesmo antes do fade out. Têm vida própria. E isso torna o filme eterno.
Nota final:
Seria exagero dizer que hoje o cinismo tomou conta de toda a criação, seria sem dúvida incorrecto.
Continuam a existir cineastas e escritores que se esforçam para criar coisas que, não ambicionando a ser mais do que um excelente filme ou livro (que não é pouco!), acabam por ser mais do que isso.
Mas no caso particular de Portugal, no cinema e na literatura, os que acreditam nas histórias que contam não são suficientemente bons e os outros querem todos poetas e críticos. Saramago parece ter perdido o gás desde 95. Do provinciano cinema português é melhor nem falar! Não há histórias de jeito nem personagens que entrem no imaginário de ninguém e de nada.
Temos péssima ficção, péssima, uma ficção cheia de medo do ridículo. O resultado tem sido uma procura da originalidade no terreno difícil e quase sempre estéril da ausência de efabulação, essa tera árida onde, apesar da erudição provinciana, crescem histórias e personagens raquíticas.
Até ver.