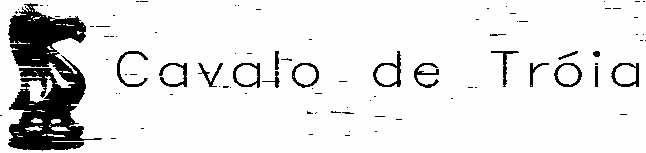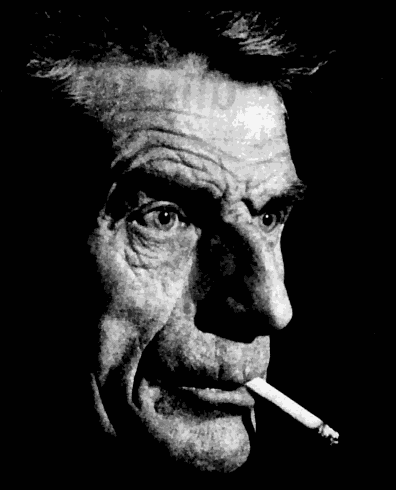Yukio Mishima - Confissões de uma Máscara
 Tenho um fascínio por Yukio Mishima que vai mudando de tonalidade à medida que descubro a sua obra e, sobretudo, a sua biografia.
Tenho um fascínio por Yukio Mishima que vai mudando de tonalidade à medida que descubro a sua obra e, sobretudo, a sua biografia.Li os fantásticos "O Marinheiro Que Perdeu as Graças do Mar", "Morte no Verão "e o "Tumulto das Ondas" sem saber nada de relevante da biografia de Mishima a não ser do seu suicídio, em 1970, pelo ritual samurai sepukko, que contribuiu muito para a sua mistificação. Saiba-se que o sepukko consiste em trespassar-se a si mesmo por uma espada e ser depois decapitado.
Mesmo depois de saber que se tinha suicidado pelo sepukko, isso ainda enobreceu mais a sua figura, pois estas coisas da arte têm o seu quê de cruel e macabro, e parece que gostamos mais dos mártires.
Imaginei-o como uma espécie de samurai, um conservador desiludido com o seu Japão rendido à ocidentalidade, que se imolava para dar um exemplo às gerações vindouras.
Talvez tenha imaginado a cultura japonesa toda assim, e daí partiu uma espécie de fascínio pelo Japão, que passou por tentativas de preparar sushi em casa, com salmão cru ou compra de DVDs de Akira Kurosawa a preços imbecis.
O choque e espanto surgiu mesmo quando, por acaso, dei uma olhada a um facto biográfico e vi que Mishima era homossexual.
Outro factor importante, foi o de Mishima me ter sido dado a conhecer por uma bela mulher, fã dos seus livros, o que, de certa forma, me fez "invejar", no bom sentido a sua escrita, que era capaz de ser sensual para as mulheres, sem recorrer a nenhum dos pastiches de Don Juans que povoam as obras da nova pseudo-literatura de cordel ocidental , tão corriqueira neste nosso país.
Seja como for, julguei compreender Mishima. Percebia a origem da sensibilidade quase sinestésica nos seus livros. Sim, ele fala de perfumes e de cores, descreve a beleza masculina com tanto à vontade e nobreza como descreve a feminina… É óbvio. Só um "homossexual" poderia ter escrito aquilo e, de certa forma, deixei de considerar Mishima uma espécie de prodígio literário porque ele teria uma vantagem genética para escrever. Quase que me apetecia dizer “assim também eu Mishima...”
Mas, pensando bem, é assim para todos os escritores. Não é mais marcante a busca da sexualidade de Mishima do que o será a educação rígida ou experiência de guerra colonial de um Lobo Antunes.
O Confissões de Uma Máscara, a sua autobiografia da juventude, publicada nos anos 50 em pleno Japão do pós guerra, ainda destrói outro(s) mito(s), construindo outro, mais poderoso do que qualquer cliché, porque é baseado na verdade, ou pelo menos, numa máscara mais escondida do que as outras, que se revela sem pedir perdão. Depois de o ler, não será possível atribuir um rótulo a Msishima, como se a sexualidade o caracterizasse, ou tivesse de caracterizar. Aliás, Mishima parece muito mais próximo do psicopata sensível. As suas descrições e fantasias relembram-me, no seu gore, coisas como o Menos que Zero de Brett Easton Ellis, escrito uns 35 anos depois, mas também têm o mesmo existencialismo de um Fernando Pessoa no heterónimo Bernardo Soares, pela riqueza das impressões sensoriais que, no fundo, são uma espécie de festim na alma, pela sensação de isolamento ante os outros de contradição entre o vulgar e pequeno da vida, e o enorme drama épico na alma. As parecenças de Pessoa e Mishima não se ficam por aqui mas isso poderá ficar para outro post.
Curiosamente, António Mega Ferreira, no prefácio, traça um paralelo com o Estrangeiro, de Camus, que eu considero francamente mais distante por todos os motivos e mais algum. Diga-se, também, que Mega Ferreira afirma que o livro oscila entre dois estilos, um literato e um mais vulgar ou próximo de um mau gosto, coisa que francamente, também não vi. Para além de uma coerência a toda a prova no Confissões de uma Máscara, não acredito que a literatura dependa da linguagem (conforme explico no meu texto anterior “a minha língua é apátrida”) e tenho antes admiração pela capacidade de escrever com recursos linguísticos minimalistas, em que a poesia está nas imagens, situações e metáforas, e não na riqueza de recursos estilísticos.
E o que sobressai também, para mim, do Confissões de uma Máscara, é que quando um escritor aborda profundamente a verdade sobre si próprio, sem procura de absolvição ou redenção, estabelece um exemplo para a arte, é um acto maior e mais puro do que qualquer outro, mesmo que o seu eu seja contraditório, tumultuoso, cobarde, ou apenas outra máscara, outra ilusão, que ele próprio criou para si como se fora a verdade. Como será o Mishima, 20 anos depois, o do sepukko? Não sei. Por enquanto é este o meu “mito”. Curiosamente, e para exemplifcar a volatilidade da opinião que se tem sobre um escritor antes de ler uma biografia sua completa ou análises profundas feitas por quem percebe da poda, enquanto procurava imagens de Mishima para ilustrar este post, encontrei uma nota biográfica que diz que depois da publicação de confissões de uma máscara Mishima terá ponderado tratamento psiquiátrico, ideia que depois recusou, e mais tarde viria a aproximar-se do estilo de vida samurai e militar. Já nem sei se devia re-escrever este post. Mas vou deixá-lo assim como está porque é sincero.
As confissões aos outros homens, públicas, parecem-me de maior valor do que todas as outras feitas no segredo do confessionário, porque se dirigem a todos que, podendo julgar, não podem nunca absolver.
E é essa pureza, essa honestidade, que está presente em todos os grandes escritores, que nos livros deitam a sua alma e, por um processo de exposição total, acabam, pela força do tempo, por tornar-se invencíveis e imortais, a qualquer julgamento ou censura.
Também realço como é possível um bom escritor ter tanta consciência de si mesmo, mas distanciar-se o suficiente para tornar abstracta a sua profunda e extrema experiência de vida. Todos os livros que Mishima escreveu não poderiam ser escritos tão bem por outros escritores, no entanto, os livros existem depois de Mishima, sem precisar de Mishima.